Entrevista com Carla Menegat - Parte II
Publicação:
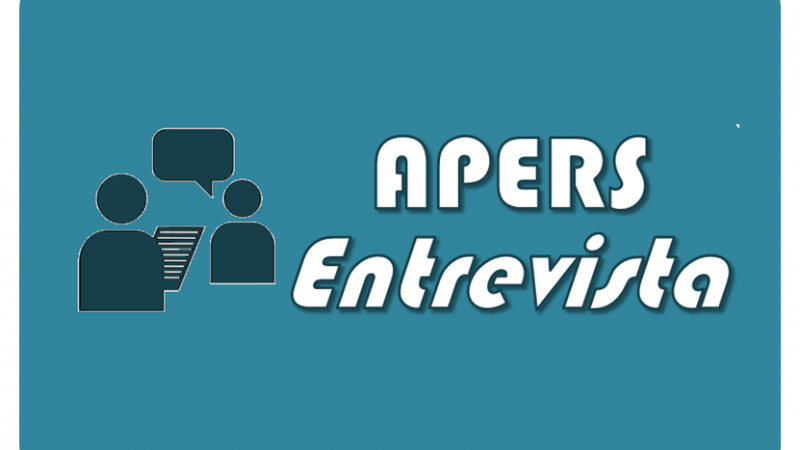
Na semana anterior, a historiadora Carla Menegat compartilhou conosco um pouco de sua trajetória, experiência no mestrado e no doutorado, metodologias empregadas e fontes analisadas, bem como algumas parcerias de pesquisa. Vamos conhecer a continuidade da entrevista!
Existe uma vasta discussão sobre a fronteira e seus significados. Como você se coloca nesse debate a partir do estudo da atuação dos brasileiros no Norte do Estado Oriental?
Eu trabalho com mais de uma concepção de fronteira na minha pesquisa. Para tratar do encontro de dois projetos econômicos distintos na altura do Rio Negro [o da elite uruguaia, que parte desde os departamentos sulinos à beira do Rio da Prata e de Montevidéu, e o dos estancieiros brasileiros, que parte da fronteira do Brasil e tem seus representantes mais fortes em Tacuarembó], eu uso o conceito de fronteira agrária, porque entendo que foi o encontro de duas frentes de expansão de atividades rurais, com modelos que se tornaram diametralmente opostos conforme o século XIX avançou. Para pensar como os brasileiros se beneficiam da fronteira, seja ocupando os pastos melhores e a menores custos no Uruguai, seja tentando usar instituições brasileiras para legitimar práticas ilegais no país vizinho, eu usei o conceito da fronteira manejada, pensado pela Mariana Flores da Cunha Thompson Flores. Para analisar como as redes sociais dos brasileiros se organizaram e se entrelaçavam com outras redes nos países do Rio da Prata, eu penso em relações transfronteiriças. Para a situação dos escravizados, usar o conceito de fronteira como demarcador de solo livre pôde trazer algumas perspectivas de análise. Usei cada um desses conceitos de forma a instrumentalizar a análise que fiz a partir das fontes. Mas antes que alguém diga que esse é um caso de oposição entre empiria e teoria, eu quero dizer que é exatamente o contrário. Foi da profunda reflexão de que eu não poderia analisar diferentes processos dentro de um mesmo corpus conceitual que percebi que precisava parar de pensar esses conceitos como concorrentes e usá-los juntos, do mesmo jeito que os processos que eu estava analisando ocorreram juntos. E tudo isso é muito diferente de discutir o que, em geral, os sujeitos da minha pesquisa acreditavam ser a fronteira. Nos últimos anos, por conta da Coordenação do GT [Grupo de Trabalho] Fronteiras e Territorialidades da Anpuh [Associação Nacional de História] eu tomei contato com muitos trabalhos que tratam de fronteiras e passei a entender que esse não é necessariamente um termo agregador e que talvez seja muito mais um catálogo de variantes do tema, que necessariamente conceito.
Além do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, você pesquisou em instituições arquivísticas em outros lugares do Brasil e também no exterior. Você pode nos contar sobre essa experiência?
Eu gosto muito de falar pra colegas de outros estados do Brasil da experiência nos arquivos do Rio Grande do Sul pela singularidade tanto do tamanho quanto da qualidade dos acervos, especialmente no Arquivo Público, o que nos deixa bastante mal-acostumados. Eu pesquisei no Uruguai no Archivo General de La Nación e na Casa de Juan Antônio Lavalleja – Museu Histórico Nacional. Como essas instituições tinham instrumentos de pesquisa antigos, ou estavam migrando seus acervos para instrumentos de pesquisa novos, muitas vezes era muito difícil encontrar as fontes que eu estava buscando e como usava os períodos de férias, raramente encontrava os colegas uruguaios que conheciam melhor os acervos. Ainda assim, os funcionários eram sempre muito gentis e faziam muitas buscas tentando me ajudar. Contudo, muitos documentos não foram localizados. Alguns, por exemplo, somente ano passado outra historiadora brasileira, a Stéfani Hollmann, encontrou na Casa Lavalleja. Eu tentei preencher a ausência desses documentos comprando compilações antigas, mas acredito que agora vai ser possível aprofundar algumas questões que eu considero importantes, como a relação entre o extermínio das populações indígenas do norte uruguaio e a ocupação das terras da porção central do norte uruguaio por vastas propriedades ocupadas por brasileiros. De toda forma, pesquisar no Uruguai foi uma experiência interessante e frustrante em alguns pontos. Instituições extremamente democráticas no que tange a acesso, acervos gigantescos, prédios belíssimos, mas sucateados, conviviam com o estranhamento com pesquisadores estrangeiros, taxas para fotografar documentos, a dificuldade de encontrar as coisas e os horários reduzidos. Aliás, existe sempre o descompasso com hábitos locais e um deles era com os horários. Eu sempre era informada quinze minutos antes da sala de pesquisa fechar que estava na hora de sair, com a formalidade muito própria dos uruguaios, o que sempre me deixava espantada. Da mesma forma que, o fechamento do arquivo no dia de um amistoso da seleção uruguaia também me pegou de surpresa, num 2014 em que a Copa aconteceu sob muitos protestos no Brasil.
Os documentos que pesquisei no Rio de Janeiro foram acessados no semestre em que estive na UFRJ como bolsista SWP/CNPq. Essa foi uma experiência de todo interessante, porque permitiu que eu passasse um período intenso lidando com as fontes ligadas às instituições do centro do Império e que eu pudesse tomar contato com outras instituições de pós-graduação do Brasil com um estágio formal. O Arquivo Nacional é uma referência em termos de espaço de pesquisa. Confortável, tranquilo, organizado. Além da documentação de Guerra, busquei documentos de Justiça também. O que mais me marcou nesse período foram os momentos de troca, quando encontrava outros pesquisadores e compartilhávamos documentos. Ao longo dos anos, essas situações se repetiram, me convencendo que esse é o melhor jeito de produzir pesquisa, mas a estrutura do Arquivo Nacional de alguma forma é muito propícia a isso, é possível conversar discretamente sem atrapalhar os demais pesquisadores, uma realidade ímpar em salas de pesquisa.

Em contraste, o Arquivo Histórico do Itamaraty, de onde tirei o corpus mais importante para minha pesquisa de doutorado, é o oposto. A sala de pesquisa é diminuta, o mobiliário é composto por peças históricas, o acesso depende da lotação da sala que quase sempre está cheia e da disponibilidade dos documentos, que não contam com uma estrutura permanente de conservação. O horário também era bastante restrito, e caso alguma das pessoas que tivesse feito reserva para pesquisa não aparecesse na primeira hora, a reserva era perdida e os funcionários liberavam a entrada de alguém que estivesse esperando na portaria ou ligavam para alguém na fila de espera. Não sei se as condições mudaram na última década, mas havia uma demanda imensa e eu só me sentia muito feliz de conseguir pesquisar ali em qualquer condição. Foram meses de muito trabalho mesmo, mas de muitos encontros fundamentais para fortalecer uma percepção que vinha crescendo sobre o meu trabalho, a de que a escravidão jogava um papel fundamental nas reivindicações dos estancieiros que eu estava pesquisando, mesmo que ela nunca fosse enunciada diretamente.
Eu acredito que uma variedade de fontes vai permitir uma visão mais complexa do objeto pesquisado, então isso tem a ver um pouco com a busca por tantos arquivos. Eu procurei instituições privadas também como o IHGB e o IHGRS, apesar de depois do levantamento inicial não ter voltado a pesquisar os acervos dessas instituições por falta de tempo. Eu tive essa experiência no mestrado e pesquisar nessas instituições é uma situação diferente, dado que os funcionários muitas vezes são pessoas sem formação universitária na área, alguns são parte interessada dos acervos, enfim, um outro universo que exige todo um outro trato com a origem da fonte.
E talvez essa seja uma reflexão importante ao falar dessas experiências todas de acervos, pensar as fontes, e como elas chegam até nós. Porque parte da questão no Uruguai é que os acervos foram “limpos”, ou seja, alguns historiadores da primeira metade do século XX decidiram o que deveria ser organizado em que ordem para ser encontrado por nós, constituindo o que eles achavam que era importante. Mas eu achei alguns documentos bem importantes para minha pesquisa no “resto” onde ficaram os documentos que não foram selecionados. No Arquivo Nacional no Rio de Janeiro tem um fundo chamado “Diversos”, onde estão documentos que não foram classificados em nenhum outro fundo, e que antes da digitalização era aquele lugar onde se procurava uma agulha no palheiro. Vi vários colegas empreenderem buscas nesse fundo, porque não encontravam nada em outros e produzirem pesquisas com os achados.
Existe uma discussão muito grande acontecendo em diversos países sobre a necessidade de “descolonizar” os arquivos e mesmo que eu ache que temos nossas particularidades e não dá pra simplesmente transpor o debate, existe muito a pensar a partir daí. Quanto do que produzimos de pesquisa não está marcado por concepções que consideramos ultrapassadas em outros âmbitos, mas não questionamos em relação à origem e repositório de nossas fontes? Apesar de que a criação de instrumentos de pesquisa que incorporem essas reflexões ajude muito, essas reflexões podem ser realizadas por cada pesquisador também em seus trabalhos.
Além de pesquisadora, você é uma educadora. De que formas as duas atividades se interpenetram?
Eu acreditei por muito tempo que minha atividade como pesquisadora alimentava minha atividade como educadora, nesse sentido único. Meu cargo é professora EBTT, Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e desde que entrei no IF [Instituto Federal] eu dei aula em todos os níveis, do Ensino Médio à pós-graduação, e apesar das disciplinas serem ligadas à história e humanidades, os cursos dos alunos não são. E eu demorei para entender como isso impactou minha prática como pesquisadora também, porque não é óbvio. Eventualmente eu produzo pesquisa e algum material sobre ensino de história, ou sobre relações de gênero em instituições de ensino, e essas talvez sejam as partes óbvias, porque me pego tendo que refletir a partir de dados e através de método e levar isso para minha discussão institucional ou com outros professores de história. Acho que a diferença agora é que existe uma preocupação cada vez mais ligada com questões que emergem na sala de aula nas minhas pesquisas. Eu sempre tive claro que perguntas do presente motivavam minhas investigações do passado, mas agora algumas preocupações se tornaram mais diretas e tendem a pensar num impacto mais imediato. Um exemplo é a minha preocupação com pautas relacionadas ao extermínio de populações indígenas e o apagamento do passado escravista na identidade local e nacional. São situações cotidianas da sala de aula que me levam a pensar nessas questões, assim como questões institucionais, como as cotas raciais e a participação em comissões de heteroidentificação. Também é a convivência com os alunos do curso de Informática que me fez começar a estudar programação no ano passado, atividade que pretendo retomar assim que for possível. A ideia é poder pensar projetos de história digital de forma colaborativa no futuro.
Do outro lado, minha caminhada como pesquisadora que me faz trabalhar com divulgação científica há mais de uma década, antes mesmo da onda de História Pública aparecer e se popularizar. Desde que virei professora no IFSul eu institucionalizei essa atuação e tento manter algum projeto, preferencialmente de extensão, preferencialmente em colaboração com outros colegas historiadores, com esse objetivo. Nesse momento, estamos em pausa, mas devemos voltar logo com a segunda temporada do podcast Coisa do Passado, que conta com o Jocelito Zalla (UFRGS) e o Murillo Winter Dias (USP) como meus colegas de editoria e uma equipe de dois estudantes, o Lucas Pitthan da UFRGS e a Jéssica Germann do IFSul. Eu realmente acredito que precisamos, ao menos alguns de nós, estar disponíveis para conversar com a sociedade, o que nem sempre é uma tarefa agradável. Eu entendo as dificuldades de assumir esse papel, nós não recebemos formação pra isso e muitos de nós não somos nativos nas tecnologias que hoje tornam tão mais fácil produzir esse tipo de material. Mas dentro do possível, acho importante incentivar esse tipo de iniciativa e, um pouco do caráter das atividades em que me envolvo ou que proponho é mostrar caminhos para isso, então também, dentro das minhas limitações, eu vou testando formatos diferentes e criando espaços onde podemos ensinar a replicar esse tipo de iniciativa. Eu realmente não percebo a existência da educação centrada numa coisa só, ensino, pesquisa e extensão estão muito ligadas na minha prática profissional.




