Entrevista com Claudia Lee Williams Fonseca - Parte II
Publicação:
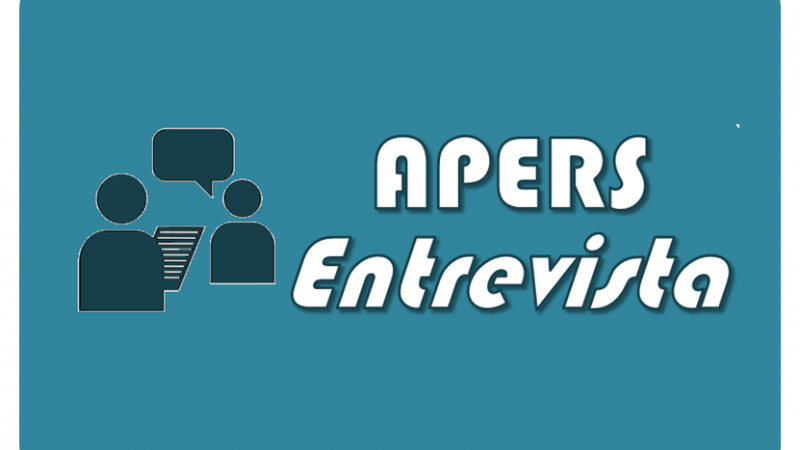
Na semana anterior, a antropóloga Claudia Lee Williams Fonseca nos relatou sobre o itinerário que a trouxe ao Brasil e sobre sua experiência de pesquisa no Arquivo Público. Vamos conferir a continuidade da entrevista!
Esses documentos [de Apreensão de Menores], décadas após, seguem pouco explorados. Temos alguns trabalhos historiográficos (a exemplo dos de José Carlos Cardozo) que analisaram processos de tutela. Entretanto a história da infância tem despertado, no Rio Grande do Sul, com importantes exceções, menos atenção do que mereceria. Qual o potencial da documentação por você analisada?
Sem dúvida tem muita coisa sobre a história do cotidiano aqui no Sul – especialmente via os estudos feministas da mulher (estou lembrando dos trabalhos de Sandra Pesavento, Joana Pedro, Silvia Arend e Flavia Motta). Contudo, à exceção dos trabalhos de Cardozo, nos estudos históricos especificamente sobre a infância, o que a gente encontra em geral é uma análise (frequentemente à la Foucault) dos discursos oficiais de determinada época, produzida a partir dos livros e artigos de especialistas, das declarações institucionais e dos desenhos formais de políticas públicas. São estudos interessantes, mas falam pouco do que acontecia, na prática, no dia-a-dia. Esse “cotidiano” é o que encontramos (por exemplo) nas entradas miscelâneas arquivadas nos processos judiciários do Arquivo Público.
Ao longo dos anos 1980 e 1990, estive muito inspirada na história social “do cotidiano”. Parecia, na época, que os historiadores me ofereciam uma pista metodológica que não se encontrava nas ciências sociais. Claro que estava em boa companhia... Todo mundo usava Ginzburg e Darnton na época. A história das mulheres também ocupava a frente do palco – autoras como Michelle Perrot, Natalie Davis, que inspiravam o pessoal dos estudos de gênero. Depois, tinha livros como Montaillou de Le Roy Ladurie – um pequeno tesouro sobre a vida cotidiana. E havia, em estilos muito distintos, livros -- como os de Bakhtin ou Thompson -- que construíam a ideia de “culturas populares” do passado. Eram autores que tinham a coragem de descrever amiúde detalhes aparentemente insignificantes, de especular sobre emoção, de apresentar modos muito diversos de vida – sem aquele tom de superioridade moral ou de julgamentos morais. E, não por acaso, quase todos estes pesquisadores recorreram em algum momento a fontes arquivais ligadas a querelas rotineiras da vida cotidiana.

Qual foi a importância dos processos históricos de adoção para sua etnografia? De que formas a compreensão das práticas familiares populares do início do século XX ajudou a entender os processos de circulação de crianças nos anos 1980?
Ler os documentos do arquivo te transporta para outro lugar, outras circunstâncias de vida. Essa viagem é fundamental para poder realizar aquele exercício etnográfico – de “estranhar o presente”. Nos arquivos dos anos 1900 a 1930, adentrei um mundo onde a adoção legal, tal como a conhecemos hoje, não existia. As percepções de família, de criança ... emergem nesse material como bem diferentes dos dias de hoje. Não há questão de “julgar”, mas sim de entender quais as circunstâncias que tornam aquelas atitudes lógicas e aceitáveis. Tal exercício me ajudou a afrouxar a camisa de força de certas tendências analíticas grudadas nas crenças e nos valores hegemônicos com os quais eu, pessoalmente, cresci. Me ajudou a enxergar e a procurar entender a realidade ao meu redor que é, no fundo, muito mais heterogênea do que pode parecer à primeira vista.
O Arquivo Público não costuma atender muitos profissionais e estudantes de Antropologia em sua sala de pesquisa. Nesse sentido, seu trabalho é raro em termos de Rio Grande do Sul. Em sua opinião, a documentação poderia ser mais explorada? Os antropólogos não se interessam pelos arquivos históricos? Os documentos não são acessíveis ou acolhedores? O contato humano proporcionado pelo trabalho de campo acaba por despertar mais interesse? É evidente que muitos estudantes (que nem eu) entram na antropologia famintos por contato pessoal, vivido, experiencial, com o “exótico”. Ao mesmo tempo, querem sentir que estão fazendo um estudo que contribuía para melhorias na sociedade. Pensam em termos imediatos; o “longo prazo” inspira menos entusiasmo, tem menos apelo. É possível que tenham se interessado pelo trabalho em arquivos judiciais e/ou administrativos (processos dos anos recentes que podem complementar suas pesquisas etnográficas), mas, aí, tenho a impressão de que o acesso está ficando cada dia mais difícil, que as repartições públicas estão ficando mais (e não menos) opacas diante das tentativas de consulta por pesquisadores. Os Arquivos Históricos com processos sobre épocas bem mais antigas -- contêm informações igualmente fascinantes, mas os estudantes nem sempre reconhecem a relevância para nossa vida atual. Talvez, nos cursos de metodologia, teríamos que trabalhar mais o potencial desses saltos – entre épocas e entre lugares – para a construção de nossos objetos de análise. Teríamos que levar os estudantes a sutilizar sua imaginação científica, levando eles a apreciar a relevância (também política) desse potencial.
Na próxima semana, conheça a terceira (e última) parte da entrevista com Claudia Fonseca!




