Entrevista com Helen Osório - Parte I
Publicação:
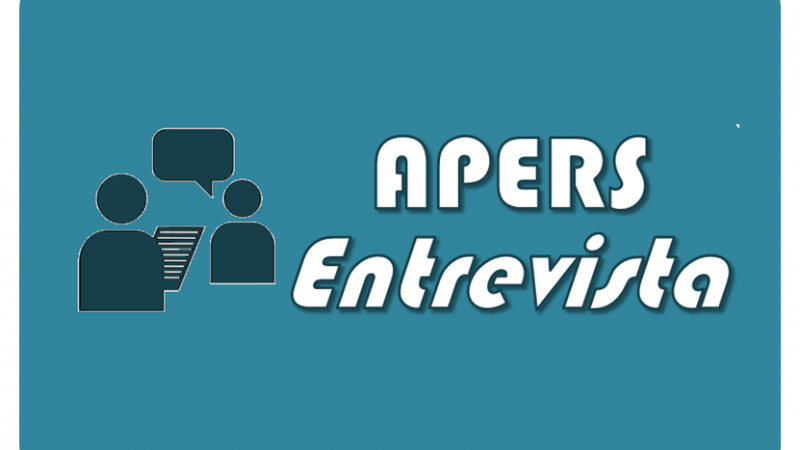
Helen Osório bacharelou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1985) e em História pela mesma Universidade (1987), onde realizou seu mestrado, defendido em 1990. É professora de História da América na mesma universidade desde 1989. É doutora pela Universidade Federal Fluminense (1999), cuja tese foi publicada pela Editora da UFRGS em 2007 (“O império português no sul da América: estancieiros, lavradores e comerciantes”). É autora de diversos capítulos de livros e artigos sobre o Rio da Prata colonial e a porção meridional do Império português, com ênfase em história agrária, social e econômica. Em 2001, participou da elaboração do Catálogo de documentos manuscritos avulsos referentes à capitania do Rio Grande do Sul existentes no Arquivo Histórico Ultramarino, publicado pela CORAG e pela UFRGS. Realizou estágios pós-doutorais no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa entre 2010-2011 e entre 2018-2019. Foi uma das pioneiras na utilização serial de fontes do Arquivo Público para escrita da história econômica do Rio Grande do Sul e formou diversos pesquisadores no campo da história agrária.
1) Helen, seu trabalho é muito associado ao campo da história agrária, do qual você foi uma das precursoras no Rio Grande do Sul e no qual você formou diversos pesquisadores. Você poderia comentar como percebe essa trajetória?
Provocada pela pergunta, veio-me à memória as primeiras vezes em que fui ao Arquivo Público, em 1993 (faz 30 anos!), momento em que eu preparava meu projeto de doutorado. Aí, na sala de consulta (então situada no segundo andar, acima dos depósitos) tive a felicidade de conhecer Paulo Zarth. Ele pesquisava para sua tese de doutoramento. Deu-me indicações preciosas sobre os inventários post mortem, fonte sobre a qual trabalhava e que eu estava entrando em contato naquele momento. A partir desse encontro pude conhecer seu pioneiro e inspirador trabalho, a dissertação de mestrado “História agrária do Planalto Gaúcho, 1850-1920”, orientada por Ciro Flammarion Cardoso, e ganhei um interlocutor importante para meus trabalhos.

Antes disso, minha primeira pesquisa resultou em minha dissertação de mestrado, “Apropriação da terra no Rio Grande de São Pedro e a formação do espaço platino” (1990) em que investiguei o processo de ocupação portuguesa e seus conflitos, com uma mirada mais larga, que pretendeu inserir esse espaço luso numa formação mais ampla, o espaço platino. Aqui já discutia diferentes formas de acesso à terra e de direitos de propriedade, por diversos grupos sociais. Minha inspiração foi o conjunto de livros de um coletivo de historiadores uruguaios capitaneado por Lucía Sala de Touron que investigaram a sociedade colonial da Banda Oriental, principalmente sua estrutura agrária, para elucidarem a origem do movimento independentista de Artigas e suas medidas de redistribuição de terras ("Artigas y su revolución agraria”).
Depois dessa primeira experiência de pesquisa, de cujo resultado gosto bastante, senti necessidade de aprofundar o conhecimento da sociedade colonial do território que viria a ser o Rio Grande do Sul; avaliei que realizara um trabalho um tanto “descarnado”, sem “gente”, no sentido em que os grupos sociais que compunham aquela sociedade não tinham sido meu objeto principal e mal tinham sido delineados. Desejava, portanto, fazer uma pesquisa na tradição da história social. Em 1993 conheço a inovadora e disruptiva tese de João Fragoso, Homens de grossa aventura Acumulação e Hierarquia na Praça Mercantil do Rio de Janeiro (1790 - 1830), que acabara de ganhar o primeiro prêmio do Arquivo Nacional e fora publicado. Além de formular uma nova interpretação do funcionamento da sociedade colonial escravocrata, onde as noções de capital residente, acumulação endógena, mercado interno, hierarquias sociais de tipo antigo eram centrais, ela apontava os fortes vínculos mercantis desses grandes comerciantes com o Rio Grande. A produção de trigo, couros e charque era por eles comercializada, assim como eram os responsáveis pela introdução de africanos escravizados na capitania. Fiquei muito entusiasmada com suas conclusões e contribuições e busquei sua orientação para realizar o doutoramento, na UFF. A intenção era estudar a sociedade colonial do Rio Grande, delinear alguns de seus grupos sociais, as formas produtivas, as hierarquias sociais e as conexões econômicas com o Rio de Janeiro. A fonte basilar seriam os inventários post mortem.
Na UFF tomei contato e estudei as obras clássicas da história agrária francesa, e as contribuições de Maria Yedda Linhares e Ciro Flammarion Cardoso, pesquisadores referentes para essa área no Brasil. Ao mesmo tempo, tive a felicidade de ir acompanhando a evolução da estupenda e inovadora história agrária argentina dos séculos XVIII e XIX, capitaneada por Juan Carlos Garavaglia e Jorge Gelman. Os ensinamentos e diálogo com esses historiadores foram fundamentais para o desenvolvimento de minha pesquisa. Creio ter conseguido esboçar, em minha tese, as principais características da sociedade que se formava, até 1825, na fronteira meridional do império português: uma economia não baseada apenas na pecuária, mas de forma relevante na agricultura; uma diversidade de produtores rurais, tanto na sua envergadura e riqueza, quanto nas atividades que desenvolviam (um grande percentual eram mistos, dedicavam-se à agricultura e à pecuária simultaneamente). Enfim, para além dos grandes estancieiros, a sociedade fronteiriça era formada, majoritariamente, por pequenos produtores dedicados mais à agricultura do que à pecuária (denominados nas fontes como “lavradores”), muitos deles não eram proprietários das terras em que viviam e produziam, e eram frequentemente pequenos senhores escravistas. Garavaglia chamava esse grupo de “pastores lavradores”, o que pode ser aplicado também ao Rio Grande.
Sempre baseada nos inventários (fonte que representa os setores mais ricos de uma sociedade), pude comparar a sociedade agrária sulina com a do Rio de Janeiro, e encontrei percentuais de população escravizada no RS tão significativos quanto lá. A tese de Zarth já havia demonstrado a presença da escravidão por todo território (para além das charqueadas, portanto) para o século XIX, e a existência dos “escravos campeiros”. Pude demonstrar a utilização de escravos que desempenhavam a função de peões, com muita frequência, e desde o século XVIII. Enfim, julgo ter dado uma contribuição para o conhecimento da diversidade da sociedade colonial e da importância da escravidão desde sua constituição, mesmo nas áreas mais fronteiriças.
Leia, na próxima semana, a continuação da entrevista com a professora Helen Osório!




