Entrevista com Jaqueline Hasan Brizola – parte 3
Publicação:
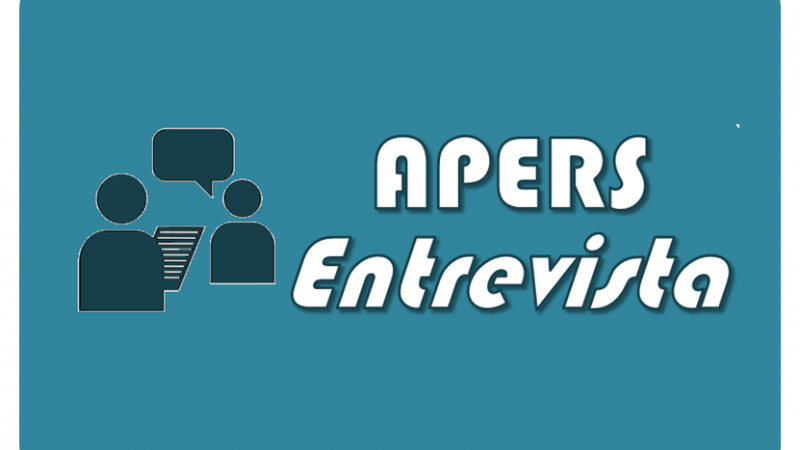
Na entrevista de Jaqueline Hasan Brizola – Parte 1 e Parte 2 - lemos sobre a utilização de fontes do Arquivo Público e sobre a atual pesquisa desenvolvida pela historiadora. Vamos conferir agora a terceira parte da entrevista!
5) Atualmente vemos uma celeuma imensa em relação à vacinação contra a COVID-19: disputas políticas em relação ao pioneirismo e aos laboratórios preferenciais e suas supostas nacionalidades de origem; pessoas que se recusam a vacinar-se e pessoas e corporações que não respeitam a ordem de prioridades; até as dificuldades de abastecimento de vacinas e a ausência de uma política pública consequente de vacinação. O que o estudo histórico sobre a vacinação contra a varíola tem a dizer? E quais os limites desse “diálogo dos tempos”, quer dizer, o que a História não tem a dizer?
Essa é uma excelente pergunta porque nos permite pensar nos limites das temporalidades e no papel do conhecimento histórico neste momento em que o mundo enfrenta uma pandemia que não tem prazo para acabar. Comecemos pela vacinação contra a varíola, já que esse foi o maior empreendimento realizado por homens e mulheres contra um agente patológico desde os princípios da civilização. Foi algo possível depois das revoluções do século XVIII, sobretudo, porque a ciência vinha ganhando os contornos que conhecemos atualmente no decorrer daquele século. Foi a partir dessa vacina que outras foram criadas, doenças terríveis como a febre amarela, escarlatina, peste bubônica foram controladas e isso significou uma mudança radical na qualidade e na expectativa de vida das pessoas, mas o fato é que a vacina jamais foi consenso, nem mesmo em situações epidêmicas. Sempre houve quem duvidasse da eficácia, ou acreditasse correr risco de adquirir feições de animais, no século XIX era comum a recusa das pessoas em vacinar porque temiam parecer com bovinos após a aplicação. Naquele contexto, ainda era possível entender a preocupação pois o pus original da vacina era retirado das pústulas das vacas. Para as populações que viviam no interior do Brasil, sem acesso à educação ou maiores informações acerca do método, aquilo era algo muito distante, que em nada combinava com os costumes adquiridos na hora de prevenir ou tratar as enfermidades. Sob esse aspecto, acho que a história tem muito a nos ensinar porque observamos recorrências no comportamento humano, e o rechaço à vacinação no passado foi elemento central para o descontrole de epidemias, não apenas de varíola. Contudo, é preciso cuidado na hora de estabelecermos comparações entre a crise que vivemos hoje e outros cenários históricos de descontrole de doenças. A pandemia de coronavírus carrega as especificidades do seu tempo, porque ocorre depois das vacinas, dos antibióticos, da super tecnologia que nos permite enxergar as células, dividi-las, modificá-las, ocorre no momento em que o planeta ultrapassa os sete bilhões de habitantes e que as desigualdades adquirem imensas proporções. Neste caso, nós historiadores e historiadoras temos muito a aprender com as outras ciências, com a sociologia, antropologia, a biologia, por exemplo. Acho que sobre as questões próprias do tempo presente temos pouco a dizer, embora saibamos, por meio do conhecimento histórico, que as condições para o descontrole das epidemias devem ser buscadas nas opções dos sujeitos, na forma que conduzem as instituições ou se movimentam em sociedade, mas esse conhecimento por si só não traz respostas prontas para as questões que se colocam no presente, a realidade é muito mais complexa.

Essa passagem do Le Goff em “As doenças tem história” nos ajuda a refletir sobre as diferentes representações das doenças em sociedade, e pensar essas categorias é essencial para a construção do conhecimento histórico. Sabemos que as enfermidades são fenômenos naturais que podem decorrer do desequilíbrio da natureza, mas as representações e formas de combate são elementos culturais que, por sua vez, podem acelerar ou conter esse “fenômeno da natureza”. Os sujeitos enfrentam as doenças de acordo com suas convenções, costumes, de acordo com o conhecimento adquirido em um determinado tempo, mas também há aqueles que não buscam tratamentos por motivos mágicos religiosos. Há inúmeras pesquisas que demonstram a importância da religiosidade na forma com que as pessoas percebem as doenças em diferentes momentos, ou seja, a batalha entre ciência e religião que, em boa medida, estamos assistindo em tempo real no enfrentamento à Covid –19 no Brasil não deixa de ser um fenômeno social que tem consequências para o adoecimento das pessoas. Com isso, recuperamos as ideias de Charles Rosemberg, um historiador americano tão importante quanto Jaques Le Goff neste debate. Rosemberg afirma que “as doenças, ao mesmo tempo que são reveladas pela sociedade, em boa medida, também ajudam a revelá-la”. Em outras palavras, as enfermidades que os seres humanos enfrentam em um determinado momento histórico são testemunhas do tipo de sociedade que construíram, das opções que fizeram, da forma com que conduziram as Instituições. A pandemia de Covid-19 revela inúmeros aspectos da sociedade brasileira, estamos vendo nossa população padecer em massa, hoje já são mais de 250 mil óbitos e 11 milhões de contágios, somos, ao lado dos Estados Unidos, o pior país do mundo na condução da pandemia, com a diferença que os Ianques já enxergam, neste momento, uma luz no fim do túnel com a mudança na condução do governo, enquanto nós vivemos em uma espécie de labirinto, sem orientação, sem planejamento, mudando nossas vidas e rotinas de acordo com as vontades de prefeitos e governadores que agem de acordo com as vontades de empresários. Além do completo despreparo para enfrentar uma situação como essa, verificamos claramente a ordem de prioridades estabelecida pelo governo brasileiro, que tem a expressão máxima da desqualificação na figura do presidente. Nestas terras ao sul do Equador prezamos pelo trabalho a qualquer custo, não praticamos isolamento, pandemia é gripezinha e quem ficar com medo de morrer é covarde ou marica. Esse discurso não deixa de ser uma tentativa de dar sentido a um fenômeno social, temos uma pandemia, ela está matando milhões de pessoas ao redor do mundo, mas nosso discurso é raso e negacionista, dizemos que está tudo bem e distribuímos remédios sem comprovação científica. A covid-19 tem revelado essas e outras questões assustadoras sobre nossa sociedade, ao tratar com desprezo e ignorância uma situação desta gravidade, estamos permitindo que a pandemia se estenda por anos e anos em nossas vidas, estamos favorecendo o vírus e sendo coniventes com mortes que poderiam ser evitadas. Ao construir um discurso negacionista, o Estado brasileiro comete um crime contra a humanidade, mas hoje não temos nenhuma segurança de que esse crime será punido, de que veremos justiça para as vítimas da Covid-19. Evidentemente, somos milhões no país contrários a esse descalabro, mas, nesse momento, as vozes da resistência estão silenciadas ou tem muito pouca força diante da magnitude do problema e o que predomina é o descaso e a inoperância. Hoje o Brasil é laboratório para o mundo do que não fazer diante de uma pandemia, é isso que estamos construindo, e talvez seja esse nosso principal legado para o momento histórico que estamos vivendo.
7) Como tem sido, para você, conciliar a vida familiar e as atividades acadêmicas em um cenário calamitoso de pandemia?
Tem sido um desafio muito grande, não apenas para mim. As mulheres, em geral, foram atingidas em cheio com a pandemia, do dia para a noite tivemos que nos adaptar ao trabalho remoto, cuidando das crianças e da casa ao mesmo tempo, muitas de nós foram demitidas de trabalhos formais e perderam a renda, isso ocorreu com muitos homens também. O suporte da escola tornou-se um fardo difícil de carregar porque as atividades enviadas para a casa têm de ser acompanhadas pelos adultos, sobretudo, quando se tem filhos pequenos, como é o meu caso, não é possível conciliar trabalho de pesquisa, leitura e elaboração com as atividades de duas crianças cheias de energia. Mas, como sou uma estudiosa da história das epidemias, tenho buscado acessar esse conhecimento para pensar em soluções sem alimentar ilusões. Sei que a pandemia não passará amanhã, com sorte veremos a situação amenizada em 2022 no Brasil, mas o fim dessa tragédia é imprevisível, não possuímos políticas públicas pensadas para conter os casos em nível nacional, ao contrário, o que está colocado no cenário hoje é o fortalecimento do vírus e suas variantes, se dependemos do presidente e seus ministros, teremos pandemia por muitos anos, então, venho propondo a organização de grupos reduzidos de convivência onde tomamos todos os cuidados e seguimos os protocolos da OMS, onde pensamos atividades para as crianças para além da folha enviada pela escola, é uma tentativa de autogestão com outros pais e mães, somos poucos, tudo está sendo elaborado por nós mesmos, tem sido uma maneira de repensar a educação, os valores. Sou contra as aulas remotas na educação infantil, tenho muitas críticas aos eletrônicos nesta fase, e sabemos que educação é muito mais que realizar uma tarefa em casa e enviar um pdf à escola. Em 2020, estive com minha família o ano inteiro na Espanha, por ocasião do doutorado em Cotutela com a Universidade de València, quando as aulas retornaram por lá, em setembro, pude observar “in loco” o modelo adotado pelo governo Espanhol para garantir a escolarização às crianças e mantê-las seguras frente ao vírus. Infelizmente, estamos longe de proporcionar segurança aos pequenos e as famílias nas escolas brasileiras por isso há que se pensar em cooperação com pessoas que estão conscientes da pandemia, dos riscos e que desejam cumprir os protocolos para preservar a si mesmo e aos demais. É preciso criar alternativas diante do caos.




