Entrevista com Luana Teixeira - Parte II
Publicação:
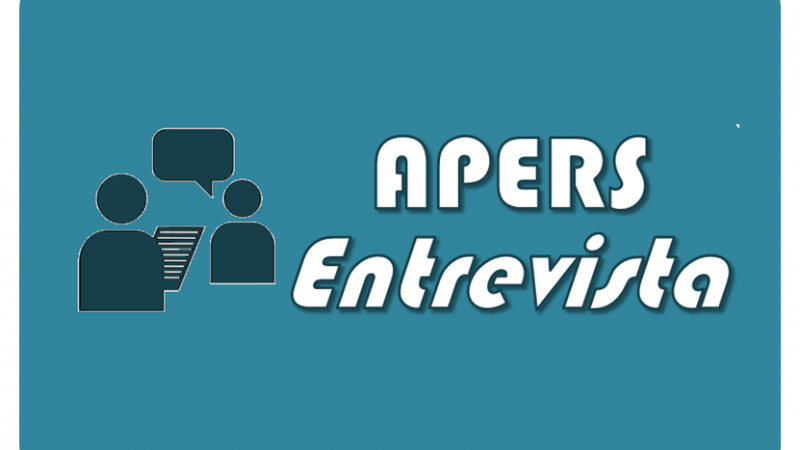
Na semana anterior, a historiadora Luana Teixeira nos falou sobre sua trajetória intelectual e sobre o papel das fontes custodiadas pelo Arquivo Público nesse itinerário de pesquisa. Vamos ler a continuidade da entrevista!
Como você chegou das relações de trabalho no universo agropecuário ao tráfico inter-provincial? O que você vê de continuidade e de ruptura entre as duas temáticas de pesquisa?
Alterei o tema devido à mudança de região de pesquisa e de acervo. Fui morar em Alagoas e pretendia continuar pesquisando relações de terra e trabalho em regiões nas quais predominavam a propriedade de poucos escravos no contexto do Segundo Reinado. O interesse era compreender, no plano das relações entre sociedade e Estado, os efeitos da Lei de Terras e do fim do tráfico atlântico para os processos de transformação das relações de propriedade e de trabalho no Brasil oitocentista. Foi um momento de grandes mudanças na história do Ocidente, mas seu impacto no Brasil é atravessado pelo sucesso de uma política conservadora. Há naquela conjuntura elementos de fundo para o entendimento do Brasil contemporâneo que contribuem para entender inúmeras das questões centrais sobre nossa formação histórica. A região do Baixo São Francisco parecia ser um espaço privilegiado para desenvolver essas questões. O Baixo São Francisco foi uma região de produção pecuária, voltada para o abastecimento, e na segunda metade do século XIX vivia um momento de desenvolvimento em virtude da possibilidade de tornar-se um dos principais eixos de escoamento da produção do Sertão viabilizada pelas novas tecnologias de transporte, como os vapores e as ferrovias. Havia um acervo importante sobre a região no Fórum do Penedo e o Arquivo do Judiciário de Sergipe era bem organizado. Pensei que com isso teria documentos para subsidiar aquela pesquisa. Escrevi o projeto de doutorado, foi aprovado e fui em busca das fontes. Pensava em seguir a mesma metodologia de abordagem documental do mestrado e para isso precisava dos inventários e processos-crimes. Mas as coisas não andaram como o planejado e, viagem após viagem, não conseguia acessar esses documentos. Nesse meio tempo, o Arquivo Público de Alagoas reabriu após passar por uma grande mudança. Dei seguimento à pesquisa lá. Ao contrário do Arquivo do Rio Grande do Sul, o acervo do de Alagoas não tem documentos do judiciário. Por outro lado, o acervo sobre a administração pública e o poder executivo é muito amplo. Passei três meses fazendo pesquisa diária sobre tudo o que se relacionasse ao projeto e a constância com que apareciam documentos referentes ao comércio de escravos era enorme. Em algum momento daquela temporada, percebi que precisava fazer uma mudança nos rumos da pesquisa. Até ali, ainda pensava em trabalhar exclusivamente o Baixo São Francisco, especialmente o comércio no Penedo, mas quando reorientei para o comércio, impôs inserir o Porto do Jaraguá no escopo da pesquisa e isso foi ótimo, por que já tinha um tempo que eu queria pesquisar a cidade em que eu vivia, Maceió. Mas apesar da mudança de tema, a questão geral manteve-se a mesma: a relação entre sociedade e Estado no processo de consolidação da Nação Brasileira na segunda metade do Século XIX e a agência dos grupos subalternos. Trocar de projeto ao longo do doutorado é um grande risco, mas por outro lado, não dá para ficar dando murro em ponta de faca e insistir em perguntas para as quais não há documentação que subsidie a análise. Mas não foi uma mudança brusca, as duas temática são contíguas, tratam do mesmo universo de relações sociais, de poderes, no mesmo período e espaço. Por isso não vejo como uma ruptura, mas como uma reordenação das questões e da metodologia.
No seu pós-doutorado você trabalhou com trajetórias negras no pós-Abolição no sul do Brasil. Você recorreu de alguma forma, novamente, ao acervo do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul?
Aqui sim, houve ruptura. Foi o trabalho mais desafiante da minha trajetória. Mas nele aprendi muito e pude ampliar a visão sobre várias questões com as quais vinham trabalhando e adquirir conhecimento para trabalhar alguns problemas de forma mais genérica, mais ampla. E houve muita dificuldade com as fontes. Ao longo da pesquisa, retornei a Porto Alegre para pesquisar no acervo do Instituto Histórico e do Arquivo Público, mas o tempo era exíguo e concentrei em buscar alguns nomes de intelectuais negros catarinenses nos catálogos, sem sucesso. Havia uma referência de Paulo Moreira sobre umas cartas de Ildefonso Juvenal a Dario de Bittencourt que estavam no IHGRGS e isso foi tudo que consegui para aquela pesquisa durante os dias que passei nos arquivos da cidade. De qualquer forma foi ótimo voltar e saber que ele continua sendo um espaço público visitado pelos pesquisadores. Aproveitei o fácil acesso para olhar processos de tutela, tipologia de fonte com a qual pretendo trabalhar em Alagoas. Esses processos são ricos, pois em vários deles encontramos casos de mães e pais que foram vendidos por força do comércio e após a abolição retornam para sua região de origem buscando reatar os laços familiares partidos pela violência do comércio de gente. Através deles é possível ligar trajetórias da escravidão e do pós-abolição e questionar sobre o papel da família na experiência dessas pessoas. Nos poucos dias que estive no Arquivo lendo essa documentação foi possível perceber que são fontes viáveis para essa investigação. A organização do Arquivo permite que o utilizemos também para essa abordagem, como uma testagem de fontes: mesmo que não esteja se pesquisando o Rio Grande do Sul, é possível estudar as tipologias documentais produzidas pelo Estado brasileiro e considerar a viabilidade do uso de determinada fonte para as questões de pesquisa.

Você estudou a escravidão em diferentes regiões do Brasil, diversas de um Sudeste que frequentemente se apresenta como “história nacional”. Você acredita que conhecer o escravismo no Rio Grande do Sul e em Alagoas lhe confere uma visão mais abrangente? De que forma o conhecimento de áreas tidas como “periféricas” poderá proporcionar uma visão mais ampla da história do Brasil?
Sem dúvida nossa visão de história do Brasil é muito marcada por uma perspectiva do Sudeste e pesquisar história de outras partes proporciona uma visão mais abrangente. A própria ideia de Brasil pode ser colocada em questão. Há também a problemática da temporalidade, pensar a constituição do Brasil no Sul difere da que se tem no Nordeste e no Sudeste e isso coloca em questão de modo mais evidente a própria arqueologia da construção da ideia de um país. Nesse último ano tenho lecionado no curso de Brasil 1 na UFAL e tenho provocado os alunos a pensarem exatamente sobre esse ponto, sobre quando e como se constitui essa ideia de país. E as celebrações do bicentenário da independência esse ano estão aí para mostrar que nada disso está resolvido, nem dentro nem fora dos muros da academia. Cada um constrói e argumenta sobre o Brasil que quer. Acho importante essa mobilização que a ANPUH, os coletivos de historiadores, os departamentos de história e outros movimentos sociais têm feito para colocar no centro do debate a discussão sobre a independência. A relação entre a manutenção de um Estado centralizado de proporções continentais e o interesse da perpetuação da escravidão e do tráfico face à crescente pressão internacional no início do século XIX é fundamental para que se entenda essa história e isso precisa ser pontuado ao longo desse ano de celebração. Só para citar um exemplo dos temas que não podemos deixar silenciar. 2022 me parece ser um ano chave para que os historiadores coloquem sua voz nos debates e assumam o papel que temos na esfera pública. No processo de ascensão do autoritarismo que temos observado nos últimos anos, os historiadores, e, principalmente, os professores de história da rede de ensino básico, foram muito atacados, o que é previsível dada a ameaça que o pensamento crítico é para esses posicionamentos políticos. O ano do bicentenário nesse contexto em que estamos vivendo será um momento ímpar de disputas públicas sobre narrativas históricas e merece um esforço extra para que ocupemos nosso espaço nesse debate.
Você tem toda uma trajetória profissional na área de História, mas também decidiu dedicar-se ao estudo de Letras. Em que o estudo dos processos históricos e da linguagem incide um sobre o outro?
História é narrativa com método, mas não deixa de ser narrativa e refletir sobre o próprio instrumental que permeia a construção dos gêneros contribui para a produção do conhecimento histórico. Por outro lado, a língua é historicamente construída, definida a partir de processos históricos e relações que são forjadas nas interações sociais. Ir mais a fundo nos estudos sobre a linguagem tem contribuído bastante para o olhar que lanço sobre os problemas históricos e sobre as fontes. Ademais, penso em dar aula de língua portuguesa no ensino básico. Em geral o professor de português tem mais horas com a turma e menos alunos, o que permite desenvolver um trabalho diferente daquele do professor de história. Por outro lado, sempre me encantei com a maleabilidade sobre o currículo que existe no estudo de línguas, usar textos sobre assuntos diversos para desenvolver atividades didáticas. Há uma discussão ampla sobre currículo, e eu não tenho maior conhecimento sobre ela. Mas tenho a sensação de que o currículo de História impõe demasiados limites ao professor. Há anos que isso é pontuado, mas na prática pouco mudou. Mesmo que temas transversais e reflexões temáticas estejam cada vez mais presentes, a abordagem cronológica do estudo de História no ensino básico define os conteúdos e isso me incomoda na prática do dia a dia, de montar programas e planos de aula. Explorar a área de línguas é, de certo modo, uma tentativa de buscar outras possibilidades para o exercício da docência. Ademais, um dos grandes problemas que professores de história enfrentam é a dificuldade que os estudantes têm na interpretação de textos. Uma das principais contribuições da escola nos dias de hoje é o desenvolvimento do pensamento crítico para o questionamento das fake news. É preciso que os estudantes desenvolvam os recursos necessários para lerem uma notícia, compreenderem a informação, questionarem sobre a veracidade ou não delas e disporem de procedimentos de testagem que levem a formação de uma conclusão autônoma sobre a questão. Para isso, História e Língua Portuguesa são disciplinas fundamentais e poder desenvolver propostas para esse trabalho a partir do conhecimento de ambas é um modo de enfrentar esses desafios.




