Entre imperiais e farroupilhas, uma convergência: pouco (ou nenhum) desafio à ordem escravista
Publicação:
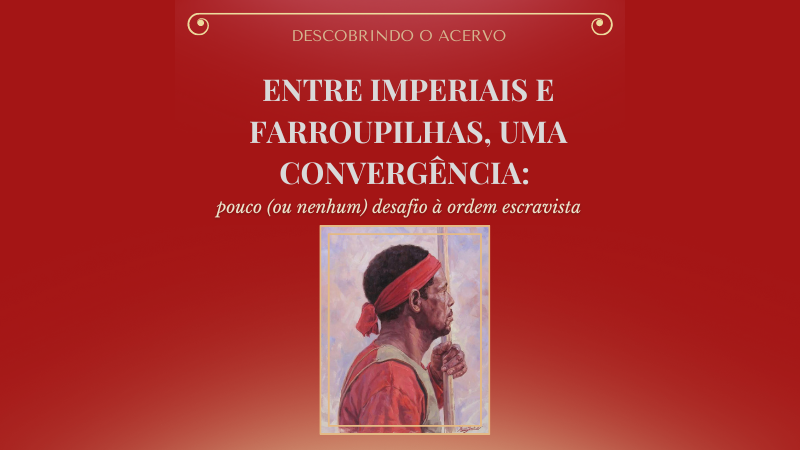
Entrado o mês de setembro, os gaúchos se deparam com duas datas “pátrias”: a Independência do Brasil e a Revolução Farroupilha, expressão consagrada pela tradição para designar o movimento sedicioso de 1835-1845. No estado, a segunda, em grande medida, supera em prestígio a primeira. As razões para isso podem ser explicadas a partir da invenção das tradições, de que se valem largamente os movimentos identitários que pretendem associar à figura do gaúcho, do ponto de vista político, a bravura e o militarismo advindos de um passado fronteiriço e o republicanismo liberal dos caudilhos destas partes, proveniente da sua formação na lida do campo, em uma alegada relação quase que horizontal com capatazes e escravizados.
A revolta dos farrapos teve múltiplas causas, mas, fundamentalmente, tratou-se de uma reacomodação intra elites, em um momento em que, na conjuntura instável do período regencial, a viabilidade e as opções de construção do Estado Nacional (brasileiro), todavia estavam em disputa. Aqui, mais especificamente, as reivindicações não satisfeitas de criadores de gado e de parte dos charqueadores os opuseram a frações da elite mais ligadas ao comércio, para as quais as ligações econômicas com a Corte e demais províncias do Império eram fundamentais.
O Império teve muitos defensores locais, especialmente no litoral e na capital, regiões economicamente mais dinâmicas. Lembremos que a tentativa de institucionalização da República Rio-Grandense, cuja proclamação de deu em 11 de setembro de 1836, deixou de fora os principais núcleos urbanos e comerciais da província, ou seja, Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande. Entretanto, o discurso identitário, em face da necessidade de construção de um passado heroico, no qual a província teria enfrentado o despotismo imperial, oblitera as disputas internas e, mais do que isso, as cisões mesmo no interior dos grandes grupos que se enfrentaram, revestindo-se de um maniqueísmo extremamente simplificador.
Uma das simplificações mais correntes é a que apresenta um embate entre a tirania imperial e os anseios de liberdade dos revoltosos. Ora, em ambas as facções, o discurso de defesa da liberdade era bastante recorrente. De parte dos farrapos, argumentava-se que o poder central, distante e alheio às necessidades locais, oprimia. Os defensores do Império, por seu turno, argumentavam que somente um governo central forte garantiria a liberdade das populações submetidas aos caprichos dos caudilhos locais. Mas esses discursos tinham um ponto em comum, a “liberdade”, da qual falavam em abstrato e por vezes em defesa de objetivos bastante específicos, era bastante restrita, e não arranhava, sequer, a estrutura social escravista e extremamente excludente. Acima de qualquer disputa, tratava-se, para as elites em confronto, de se diferenciar das “classes perigosas” (escravizados e pobres em geral), expressão que, desgraçadamente, marcou a história social do Brasil por largo período, e ainda tem vigência.
Essa comunhão de princípios fundamentais em termos sociais e econômicos, como a manutenção da escravidão, ajuda a entender o processo de pacificação de 1845, que atendeu a interesses de ambos os grupos de elites, em prejuízo da população mais pobre e sobretudo dos escravizados, como o demonstra o evento da negociação que resultou na traição do Cerro de Porongos. Na ocasião, já ao final da guerra, David Canabarro, líder militar farrapo, tramando com o então Barão de Caxias, chefe militar imperial, desarmou e entregou soldados negros, num episódio de uma vileza que, sem dúvida, não ajuda a lenda.
Pela supervalorização da Revolução Farroupilha como evento máximo de uma construção de identidade, não mais rio-grandense, mas gaúcha, elementos como os acima descritos são deixados de lado, em favor do processo de criação de um imaginário que é relativamente recente, aliás, em relação ao evento. Cabe aos estudos de história apresentar os fatos, tão fidedignamente quanto possível, a partir da seleção e crítica das fontes. Nesse sentido, felizmente, há uma riqueza e variedade documental bastante acessível, que corrobora com pesquisas que propõem interpretações que desconstroem a figura do gaúcho, bem como a história tradicional de sua década de revolta, trazendo à tona a complexidade, as contradições e a convergência de interesses de um embate em que estava em disputa, acima de tudo, a articulação entre autonomia-centralização que opôs elites estancieiras e comerciais.
No caso das fontes custodiadas pelo APERS, uma das mais importantes, são os inventários post mortem, que permitem cotejar o discurso político com as efetivas práticas sociais. O que os inventários de líderes imperiais da província têm em comum com os das lideranças farroupilhas? Um dos elementos mais evidentes é a presença de escravizados. Apesar do envolvimento de escravizados nas tropas revoltosas, a sua liberdade, para além do discurso, nunca esteve de fato em pauta. A manutenção da estrutura escravista permaneceu após o rearranjo de Poncho Verde, em 1845, como base produtiva nas estâncias e charqueadas dos generais farroupilhas.A viúva de David Canabarro (o personagem central do aludido episódio de Porongos) Eufrasia Ferreira Canabarro, deixou oito escravizados, em inventário cujo inventariante foi o próprio marido, em 1854[i]. Outros exemplos se sucedem, e talvez o caso mais emblemático seja o de Bento Manoel Ribeiro, personagem que entrou para a história como o líder que ora servia a um lado da contenda, ora a outro. A postura de Ribeiro demonstra certa volubilidade de princípios que, invariavelmente, eram submetidos a interesses materiais mais imediatos. Quando faleceu sua esposa, Maria Mancia Ribeiro, na relação dos bens do casal foram contabilizados 62 escravizados, registrados em inventário de 1856[ii]. O número é bastante significativo, para os padrões do escravismo no Rio Grande do Sul.
O que pretendemos demonstrar com esses exemplos são possibilidades de aproximação aos estudos sobre o evento e seus efeitos no desenvolvimento social e econômico do Rio Grande do Sul e do Brasil. Do ponto de vista da historiografia, perceber a Revolta Farroupilha em contexto mais amplo, como um rearranjo de poder intra elite em um momento em que a capacidade centralizadora do Império foi posta à prova pelas elites regionais e como essa elite sediciosa se acomodou novamente no seio do sistema imperial a partir de uma relação refundada com o poder central e da garantia da manutenção da estrutura de dominação, contribui para a desconstrução do caráter liberal, democrático e abolicionista que se pretende imprimir sobre ela. Para além das comemorações, impõe-se a reflexão que perscrute as raízes históricas de uma sociedade ainda extremamente desigual e excludente.
[i] APERS. Comarca de Triunfo. Inventário de Eufrasia Ferreira Canabarro. Inventários post mortem. Triunfo: Cartório Provedoria, 1854, proc. nº 5.
[ii] APERS. Comarca de Alegrete. Inventário de Bento Manoel Ribeiro. Inventários post mortem. Alegrete: Cartório de Órphãos e Ausentes, 1856, proc. nº 152.




