Entrevista com Marcio Antônio Both da Silva - Parte 2
Publicação:
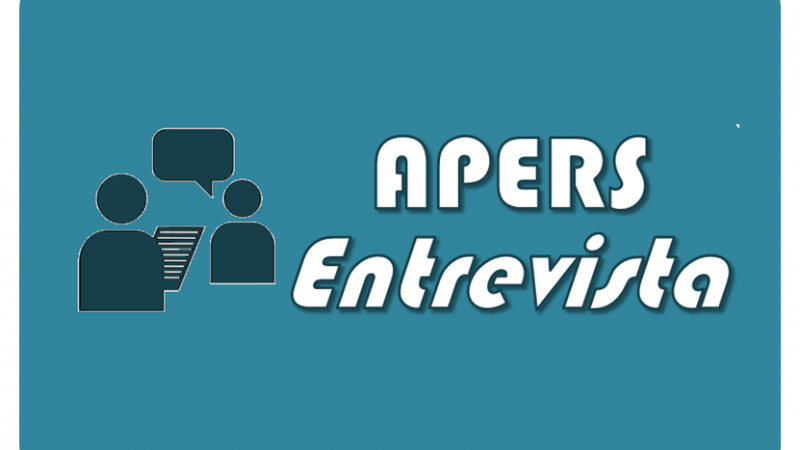
Marcio Antônio Both da Silva graduou-se em História pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (2002). É mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2004). Doutor em História pela Universidade Federal Fluminense (2009) e realizou estágio pós-doutoral em 2020. É docente, desde 2008, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, coordenador do GT História Agrária/ANPUH-PR e da Regional Sul do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Proprietas (INCT-Proprietas). Autor dos livros “Babel do Novo Mundo: povoamento e vida rural na região de matas do Rio Gradne do Sul (1889-1925)” (Editoras Unicentro e UFF, 2011) e “Caboclos e colonos: Encontros, ocupação e conflitos nas matas do Rio Grande do Sul (1850-1889)” (Editora Prismas, 2016).
Confira a primeira parte da entrevista.
4) Um debate que vem sendo feito recentemente, em vários campos da história, envolve as discussões sobre as intersecções entre raça, classe e gênero. Ainda que você não trabalhe com a noção de “racialização”, podemos dizer que, ao analisar colonos e caboclos, negros e indígenas, você já estava articulando classe, raça e, no caso, etnicidade?
Este é um dos problemas para o qual ainda estou procurando soluções. No mestrado, uma das conclusões foi a de que, na Primeira República, os conflitos por terra no Rio Grande do Sul alcançaram proporções maiores do que na segunda metade do oitocentos. Além disso, aprendi que uma análise mais completa desses conflitos, exigiria uma atenção mais dedicada ao papel e protagonismo desempenhado pelos indígenas e as populações egressas da escravidão.

Ao pensar meu objeto de pesquisa a partir da teoria de classes, verifiquei que caboclos, negros, colonos e indígenas faziam parte da mesma classe social, mas com muitas diferenciações internas. Assim, a pergunta que me movia era: como grupos sociais que economicamente guardam semelhanças no seu status social são tão diferentes em suas concepções de mundo, trabalho e vida ao ponto de que os colocar no mesmo espaço produz uma quantidade expressiva de conflitos, os quais, em boa parte, aconteciam por questões não econômicas? Perdi as contas dos Processos-crime que encontrei em que pais imigrantes matavam suas filhas ou filhos ou os expulsavam de casa em função de que haviam estabelecido relações mais íntimas com “nacionais” ou com outros imigrantes considerados “inferiores” em relação ao grupo identitário (étnico) de origem. Lembro também de um caso em que o móvel de um assassinato foi o de que um dos envolvidos havia sido chamado pelo seu opositor de “indiozinho”.
Obviamente que a situação não é simples, pois ao analisar as fontes quase sempre é possível verificar que os atos violentos têm uma longa história, que muitos acertos de conta eram casos de “rixas antigas” e que, invariavelmente, a terra e sua posse faziam parte da trajetória do conflito. Porém, isso não tira a importância do fato de que, por vezes, o estopim do ato derradeiro era alguma palavra fora de lugar, geralmente com conteúdo pejorativo e que poderia remeter às diferenças étnicas. Em suma, eram conflitos que aconteciam no universo de um grupo social, cujos integrantes guardavam uma realidade econômica muito parecida, mas que não se entendiam em relação a uma série de assuntos e um deles era as suas diferenças étnicas (para nós) e de raça (para eles).
Uma primeira solução teórica testada para esse problema, foi a de tentar encontrar uma unidade para esses diferentes grupos sociais a partir do uso das teorias do campesinato. Assim, caboclos, indígenas, negros e os imigrantes que, depois de estabelecidos em uma colônia, viravam colonos, passaram a ser pensados como grupos camponeses. Isso gera outro problema, pois o conceito e a palavra “camponês” nunca tiveram uma grande recepção e usos generalizados no Brasil. Inclusive alguns pesquisadores são contrários ao seu emprego por aqui, entre outras coisas, “por ser uma palavra muito europeia”. Ignoram que na América Latina de fala espanhola como um todo, ela é de uso comum e corriqueiro. De todo modo, o emprego deste conceito se demonstrou produtivo, pois possibilitou pensar a unidade na diferença.
Permitiu tratar dos negros, indígenas, caboclos e colonos que estavam envolvidos no processo de ocupação das terras da região de matas do Rio Grande do Sul, como pertencentes a um grupo social que guardava situação econômica semelhante. Eram grupos que viviam em uma região de fronteira agrária, praticando uma agricultura de subsistência, em terras das quais nem sempre mantinham o domínio legítimo e que guardavam entre si uma série de diferenças de concepção de mundo, relação com o trabalho, com o tempo e com a vida. Grupos, que tinham como seu principal contraponto econômico os grandes proprietários de terras locais, latifundiários em geral, os quais, ao fim e ao cabo, auferiam uma infinidade de vantagens em decorrência do fato de que estes grupos camponeses dificilmente conseguiam agir em uníssono devido as suas diferenças internas. É nesses termos que a teoria de classes entra nos estudos que fiz, a partir da incorporação do conceito de camponês, mesmo que as populações que procuro nominar a partir de seu uso não o empreguem para se auto identificarem.
Resolvido o problema e localizado um possível traço que poderia unificar grupos tão diversos – sua campesinidade – faltava encontrar meios para estudar as suas diferenças e os motivos pelos quais elas estavam tão arraigadas no seu cotidiano. Ora essa, por que motivos na fronteira agrária do Rio Grande do Sul, as pessoas se matavam, se esfaqueavam, se envolviam nos mais diferentes entreveros devido a ofensas que tinham por origem a sua cor de pele ou o lugar que ocupavam na hierarquia social produzida no processo de ocupação daquelas terras, a qual tinha como um dos seus critérios de estruturação as diferenças de origem racial/étnica.
Embora situada no interior do interior do Brasil do século XIX, a região de matas, com suas particularidades próprias, espelhava a sociedade brasileira como um todo. Lembremos que no oitocentos o Brasil era uma nação escravocrata que investiu boa parte de suas forças e recursos para atrair imigrantes brancos de origem europeia. Pessoas que, segundo a ótica dominante, deveriam cumprir um papel de desenvolvimento que a nossa elite econômica e política, encalacrada no Estado, entendia que aqueles que viviam no país, por serem preguiçosos, racialmente inferiores ou degenerados, não dariam conta de realizar. A aposta foi esta, mas a dinâmica da realidade não tardou a demonstrar que os imigrantes não seriam aquelas pessoas pacatas e modernizadoras como era esperado. Assim, no final do século XIX e o início do século XX, na medida em que a fronteira agrária ia sendo fechada, que a densidade demográfica e os conflitos nas regiões coloniais aumentavam, muitos imigrantes e seus descendentes passaram a ser chamados de “intrusos”, “maus colonos”, “acaboclados” e uma série de outros termos pejorativos.
As explicações étnicas também eram manejadas pelas autoridades responsáveis por administrar as políticas de imigração e colonização. É corriqueiro encontrar nas fontes indicações no sentido de priorizar a vinda de determinados imigrantes em relação a outros. Existia uma espécie de hierarquia étnica orientando as políticas de imigração e colonização, mas que devido às condições da época nem sempre eram possíveis de serem colocadas em prática. No caso do Rio Grande do Sul, invariavelmente os imigrantes alemães eram colocados no topo dessa hierarquia, os polacos ou aqueles imigrantes vindos da região do sul da Itália ocupavam as posições inferiores, mas, ainda assim, estavam acima de indígenas, negros e caboclos. Estas leituras encontravam ecos na região de matas, evidentemente que nuançadas pela realidade local, mas estavam lá, orientando relações, encontros e conflitos. Dificultando a vida das populações camponesas e facilitando a vida dos grandes proprietários e sua sede de apossamento de terras e pessoas.
No entanto, se é mais tranquilo falar em termos de “identidade étnica” em relação aos imigrantes e colonos, a análise fica mais complicada quando o foco são as populações caboclas, negras e indígenas. Neste sentido, os imigrantes e seus descendentes caminharam mais rapidamente na perspectiva de construírem traços de identidade e unidade. Viviam em um espaço delimitado chamados colônias, construíam suas igrejas, escolas e associações, criaram suas etnicidades e meios de instituicionalizar suas histórias e as identidades construídas. Além de tudo, passaram a viver em uma sociedade que considerava que, por serem brancos e de origem europeia, eram superiores àqueles grupos com os quais foram conviver nas regiões de colonização e que foram transformados em seus “outros”.
Por seu turno, negros, indígenas e caboclos, além de serem preteridos em relação aos imigrantes, pela sociedade como um todo e pelo Estado, guardavam um modo de vida e trabalho considerado incivilizado ou mesmo avesso a civilização. Segundo a leitura dominante, o contato entre imigrantes europeus e as populações locais proporcionaria condições para que as últimas evoluíssem. Portanto, de um lado temos condições propícias para que a identidade e a unidade de posições se desenvolvam (o que não significa unidade absoluta) e, de outro, ela é dificultada ou apenas potencializada em seus aspectos “negativos”.
No fim e para sintetizar, precisei encontrar uma teoria que pudesse ajudar a discutir estas questões. Foi nessa época que conheci Norbert Elias e, em consequência, a ideia de “estabelecidos e outsiders” passou a ser referência para orientar minhas análises do encontro entre caboclos, indígenas, negros e imigrantes. Algum tempo depois, conheci a sociologia Pierre Bourdieu e, desde então, estes dois pensadores têm sido referência para analisar algumas das questões que orientam minhas pesquisas.




